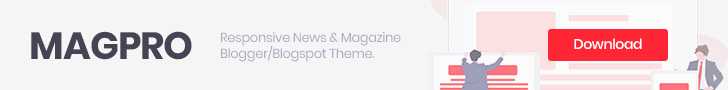Fica mais fácil comentar esse filme, passada uma década de seu lançamento. À época, qualquer comentário ou crítica positiva soaria como uma ofensa. É que tal obra era concorrente direto de um filme brasileiro ao oscar (“Central do Brasil”). E vários indivíduos, dotados de inteligência e capacidade, ou não, renderam-se ao ufanismo. Lembro-me que Arnaldo Jabor usou de vários sofismas para desancar a obra de Benigni. E eu, quando a vi naquele tempo, sai convencido da sala de projeção de que ela era superior ao bom filme de Walter Salles. Um dos sofismas utilizados por Jabor é comparar a obra italiana aos filmes do neo-realismo produzidos por aquele país nas décadas de 1940 e 1950. Os traços de tal escola são raros na obra. O diretor e roteirista enveredaram por outra direção. E o fato de não querer se utilizar de uma fórmula (ainda que genial) não deve ser julgado. Outra crítica insossa foi considerar a obra oca e fútil, por minimizar o holocausto (vi justamente o contrário, ele ousou e muito com sua visão).
O horror legado pela segunda Guerra mundial talvez não tenha sido o ápice do que o ser humano é capaz de fazer ao outro. A questão é que ele se encontra mais próximo, foi realizado dentro do continente mais desenvolvido e tido como o mais civilizado. E foi, sobretudo, a maior vítima um povo milenar, cujas raízes estão fincadas em todo o mundo. E os carrascos documentaram tudo, como se estivessem realizando uma simples experiência científica com cobaias não humanas. As feridas abertas ainda não cicatrizaram. Quando da queda do muro de Berlim, discutiu-se se o sistema educacional alemão deveria ensinar o que aconteceu. O debate foi caloroso e os maiores filósofos e educadores conseguiram impor a idéia de que o horror não deve ser negado, pois senão ele pode renascer mais forte.
Quando Benigni disse que faria uma comédia, tendo como cenário um campo de concentração, a atenção do mundo se fixou nele. Tarefa arriscada. Lembro-me de que Charlie Chaplin declarou, anos após o término da Segunda Guerra, que se soubesse da dimensão do horror criado por Hitler, jamais teria realizado seu “O Grande ditador”. A coragem de Chaplin, o qual, à época da realização do filme, não tinha a informação que hoje temos, não deve ser diminuída.
Benigni realizou uma obra forte e corajosa. Ela não mostra bombardeios excessivos, tampouco o sangue enche a tela, bem como não existem torturas e crueldades físicas. Pelo menos, não diante dos olhos. Contudo, ele não deixa de nos remeter a tais verdades. É um filme que mais insinua, do que desnuda. Afinal é obrigação nossa já estarmos cansados de saber o que acontecia em um campo de concentração nazista.. O humor (ou clima de...), em sua segunda parte, nasce do esforço empreendido por um pai, para esconder a verdade de seu filho de 5 anos. Quando nós pensamos no esgotamento do tema holocausto pelo cinema (o que poderia o cinema ainda mostrar?), eis que Roberto Benigni nos presenteia com essa pérola. E a premissa de fazer com que o pequeno Giosué acredite que tudo o que acontece, nada mais é do que um jogo, é um genial golpe desferido contra o discurso fascista. Permite que o horror não seja negado, tampouco minimizado, o que ele faz é criar um método que faça com que olhemos para dentro do horror, sem que esse horror adentre em nós. E isso ocorre quando as vítimas se colocam em posição de sentimentos hierarquicamente superior a seus carrascos. O tio que auxilia a oficial que o conduz a morte. O alemão torturado por não conseguir decifrar uma charada, também vive um inferno interno que talvez se equipare aos dos prisioneiros.
Se a primeira parte do filme assemelhou-se a um conto de fadas, a segunda onde a luminosidade diminui, persiste neste caminho. O pai que mantém os sofrimentos daquele lugar ilhados no exterior, não permitindo que alcancem o interior do seu ser ( e também estende esse modo de agir ao seu filho). Tudo aquilo que ocorre deveria ser visto como um jogo, um jogo de crianças cujo objetivo seria atingir 1000 pontos. Ora, todo o horror criado pelos carrascos, fica reduzido a um jogo de criança. E ao agir como se tudo isso fosse um simples jogo de faz-de-conta, não permite que seu rebento tenha contato com o mal. E assim permite que uma visão crítica (ou resistência) do acontecido se estabeleça. O discurso de aniquilação proposto por Hitler e seus asseclas se esboroa. A farsa proposta por Begnini esvazia o real de sua substância trágica. O diretor opta por não permitir que nenhum sinal ou marca definitiva dos campos de concentração surja. Quero dizer com isso que em nenhum momento ele nega que existe o enclausuramento fatal. Só que a confirmação desse “fatal” fica apenas na insinuação. Isso permite que todos pensem a dimensão do horror e imaginem aquilo que ainda soa inimaginável. Guido jamais sairá daquele enclausuramento real, tampouco do imaginário. A cena em que ele se deixa guiar por dois soldados rumo ao seu aniquilamento, mostra bem o que se passava. Havia ali o intuito de livrar o filho da verdade (que até hoje, é tão absurda, que soa como mentira). Sabemos que os que eram eliminados do jogo imaginário, também o eram da vida real. O jogo não havia terminado. Guido permanece vivo, não só para seu filho, como também dentro de nossas mentes. Sabemos que os que sobreviveram ao horror, retornaram como Lázaros redivivos (expressão usada por Hannah Arendt), pois ao adentrarem naquelas muralhas o selo da morte já penetrara em suas almas.
O filme de Benigni pese algumas discordâncias, é um exemplo vivo, de que sempre será possível, com talento, enriquecer de alguma forma a história humana. Ainda que essa história seja incômoda. O olhar lançado por esse filme, permite que tentemos superar o horror, sem negá-lo.